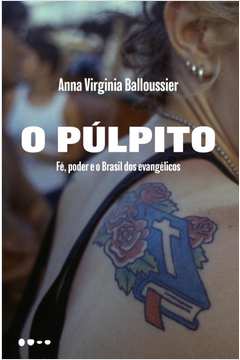Por Georg Sans (Georges*

|
|
Em um artigo polêmico de 1766, Immanuel Kant fala de seu destino de estar apaixonado pela metafísica[1]. Poucos são os leitores do filósofo de Konigsberg que se preocupam seriamente em se perguntar o que é essa paixão fatídica. Pelo contrário, continua-se a transmitir de uma geração para outra a imagem estereotipada de Kant como aquele que destruiu a metafísica escolástica. Kant teria contestado a evidência da existência de Deus, negado a imortalidade da alma, e desmascarado a hipótese da liberdade humana como uma ilusão cosmológica. Somente o minguível remanescente de uma fé prática permaneceria, muito para a filosofia e muito pouco para a religião.
E, no entanto, não é possível duvidar que o próprio Kant considerava as coisas de uma maneira completamente diferente. Vinte anos depois, no prefácio da segunda edição da Crítica da Razão Pura, o filósofo declara expressamente que ele tinha que “colocar de lado o conhecimento, para abrir caminho para a fé”.[2] Com o conhecimento de que ele teve que deixar de lado Kant não significa tanto algum conteúdo específico, mas sim os fundamentos da metafísica tradicional. Os argumentos apresentados por Leibniz e Wolff em favor, por exemplo, da substancialidade e, portanto, também da sobrevivência da alma tornaram-se cada vez mais problemáticos. Ao mesmo tempo, atribuiu um grande valor existencial à doutrina da imortalidade, bem como à existência de Deus e à liberdade de ação, pela qual se sentia muito orgulhoso de ter colocado em prática uma capacidade que torna acessível o conhecimento daquelas áreas que permanecem fechadas ao conhecimento teórico.
Deixemos de lado o difícil problema do que significa exatamente que o conteúdo da metafísica prática de Kant não pode ser conhecido, mas deve ser acreditado, e vamos lidar com o conteúdo para cuja aceitação ele está comprometido. Queremos prestar especial atenção aqui ao primeiro postulado kantiano, a tese da imortalidade da alma. Embora os temas da existência de Deus e da liberdade humana tenham considerável relevância mesmo na filosofia de hoje, o mesmo não pode ser dito para o da imortalidade. Certamente, a doutrina da ressurreição ou possivelmente da reencarnação pertence ao núcleo essencial da fé das diferentes religiões, mas na esfera da filosofia a alma imortal passa em silêncio.
Diante desse fato, pode ser interessante refletir sobre as razões que levaram um filósofo como Kant a dedicar amplo espaço à imortalidade em sua metafísica. A fim de antecipar os resultados das seguintes considerações, consideramos os argumentos de Kant a este respeito substancialmente pouco convincentes. No entanto, em sua filosofia prática, há muitas ideias que tornam o tema atual de uma maneira diferente. Além disso, no curso de nosso raciocínio, abordaremos uma série de problemas relevantes do lado filosófico, como a ideia do bem supremo, o grau de virtude que nós, homens, podemos alcançar, o papel da liberdade na moralidade e, finalmente, a relação entre virtude e felicidade.
A ideia do bem supremo
De acordo com uma concepção bastante difundida, o mérito de Kant para a filosofia prática está acima de tudo na elaboração do chamado imperativo categórico. Este último constitui para Kant o único fundamento da determinação da boa vontade moral. Somente aquele que decidiu expressamente conformar as máximas de sua conduta à lei moral pode fazer o bem. A ética de Kant, portanto, não pressupõe um certo conceito de bem, do qual os deveres éticos devem ser deduzidos, mas Kant, ao contrário, estabelece antes de tudo o princípio moral fundamental, do qual deriva a ideia do bem. A sua ética encontra a sua origem na consciência individual, ou mais precisamente na voz da consciência, que nos leva a não explorar outra a realizar os seus próprios interesses, mas a considerar cada pessoa como um fim em si mesmo, dotado de uma dignidade absoluta.
Kant, no entanto, não se contenta apenas em refletir sobre o dever moral. Alistado por seu amor pela metafísica, ele ainda se pergunta qual é o objeto da vontade moral, isto é, o que é o senso do bem. Na segunda metade da Crítica das Boas Práticas, ele elabora a teoria do bem perfeito que deve guiar aqueles que agem moralmente. Embora ele chame esse objeto da razão prática de “estava bem”, seguindo nesse sentido a tradição clássica, sua ideia difere consideravelmente do summum bonum de Aristóteles ou Tomás de Aquino. O aspecto que o caracteriza mais profundamente é que, para Kant, o bem supremo contém dois elementos distintos, a saber, por um lado, a virtude e, de outro, a felicidade, ou a felicidade.
Ninguém certamente contestará o fato de que a ideia do bem tem a ver com moralidade. Para Kant, “a perfeita adequação da intenção à lei moral é a condição suprema do bem mais elevado”.[3] Mas, a este respeito, pode permanecer aberto, antes de tudo, se, em virtude, se deve, antes de tudo, compreender uma intenção irrepreensível ou se se pensa nas ações individuais que cada um realiza com base em suas boas intenções. Em última análise, uma coisa condiciona a outra, porque somente se o bem é constantemente feito é alcançado pela virtude, assim a intenção, se é animada pela virtude, é sempre manifestada em boas obras. Apesar de alguns obscurs nos detalhes, sobre os quais falaremos no parágrafo seguinte, o primeiro elemento do poço supremo é, portanto, bem inserido na imagem tradicional de Kant como um defensor do dever moral absoluto.
É mais difícil entender é por que o bem mais elevado para Kant tem necessariamente a ver com a felicidade do homem. Ao primeiro olhar com o discurso sobre a bem-aventurança, ele parece introduzir um elemento estranho em sua filosofia prática, fundada exclusivamente no conceito de dever moral. E, de fato, a felicidade não deve ser entendida como algo cuja realização nos leva a agir moralmente. O que é bom no nível moral deve ser feito apenas porque é o bem ou, como diz Kant, “para o dever”. Mais surpreendente é a naturalidade com que ele fala de felicidade como um dos elementos que constituem o objeto da razão prática.
Sobre este ponto, devemos nos referir à tradição. Começando com Aristóteles, os filósofos sentiram que a eudaimonia é uma das tendências essenciais do homem. Enquanto os antigos e medievais colocaram a felicidade a ser alcançada em um plano espiritual, os empíricos ingleses fizeram com que consistisse em prazer sensível. A partir desse momento, uma concepção muitas vezes predomina segundo a qual os esforços para satisfazer nossos desejos e nossas necessidades constituem um elemento essencial da natureza humana. Embora não seja nossa intenção negar que essas fontes influenciaram a concepção de felicidade de Kant, acreditamos que há uma razão muito mais provável pela qual o bem supremo deve conter uma espécie de sentimento de satisfação.
Para simplificar o discurso, chamemo-nos para a figura do Bom Samaritano do Novo Testamento. Sem ninguém tê-lo forçado e sem pensar em qualquer ganho pessoal, este samaritano ajuda o judeu atacado pelos bandidos e deitado ferido na estrada, e o leva para a estan mais próxima. O objeto ao qual a vontade do samaritano tende, segundo a parábola de Jesus, é sem dúvida o bem moral. Ele pretende fazer exatamente o que a lei moral prescreve, isto é, para ajudar os necessitados. No entanto, o objeto de sua vontade não termina no fato de que ele revive sua boa intenção e a coloca em prática. O samaritano quer fazer algo mais: ele tende em particular a fazer os feridos não passarem pelas feridas, mas curar. Certamente, a realização desse propósito depende apenas em parte da boa vontade do samaritano e, portanto, assume relevância secundária ao julgar sua ação moralmente. Um médico experiente, por exemplo, pode proporcionar um alívio mais eficaz do que um viajante de negócios pode dar. E o resultado da ajuda fornecida dependerá também da gravidade das lesões. Mas não seria razoável pensar que o samaritano não tem pelo menos o desejo de que a pessoa ferida possa realmente ser ajudada por sua intervenção.
De nossa parte, chamamos isso de aspecto pragmático da boa ação moral e acreditamos com o que toda intenção moral por necessidade lógica implica a vontade de realmente produzir o efeito que corresponde a essa intenção. Para alcançar plenamente a virtude, é certamente suficiente para o samaritano fazer tudo o que está em seu poder para salvar os feridos, mas o “estava bem” implícito nesta situação é obviamente perfeito se esse homem atacado por bandidos é realmente melhor. A realização deste fim, isto é, o êxito da acção moral, provocará um sentimento de satisfação tanto nos feridos como no Samaritano: no primeiro porque se sente melhor, no segundo porque a sua acção alcançou o resultado que ele propôs. Em nossa opinião, é uma experiência desse tipo que Kant descreve com o conceito de bem. Ele define a felicidade como “a condição de um ser racional no mundo, para a qual, em toda a sua existência, tudo vai de acordo com seu desejo e vontade” [4]. Se um sujeito age de acordo com princípios morais, o conceito de bem inclui claramente o sucesso de suas boas ações. Se o conceito de bem supremo contivesse em si apenas o elemento da moralidade, seria obviamente incompleto.
Perfeibilidade moral
A metafísica prática de Kant parte da ideia do bem supremo. Essa ideia é um pensamento metafísico, na medida em que não apenas nela está conectada entre si o elemento da virtude e a da bem-aventurança, mas porque a razão acredita que ambos os dois elementos e sua conexão são elevados à maior perfeição. Quase como se estivesse conduzindo uma espécie de experimento mental, Kant reflete sobre o problema de como se deve retratar o objeto final ou o cume de uma razão prática que está sujeita às exigências da lei moral. Ele também reflete sobre as condições para que tal objeto seja verdadeiramente suposto. Em resumo, a ideia de muito significa que a virtude perfeita pode ser pensada combinada com a felicidade perfeita de uma maneira perfeita. Para entender o argumento de Kant sobre a imortalidade da alma, tudo depende da primeira parte dessa afirmação, isto é, a perfeição da virtude. Qual, então, a “adequação perfeita acima mencionada da intenção para a lei moral”?
O próprio Kant identifica repetidamente a perfeição moral com a santidade da vontade. Mas, ao mesmo tempo, ele enfatiza continuamente que o homem, como homem sensível, nunca pode alcançar plenamente o ideal de santidade. Não queremos insistir aqui que a declaração de Kant está além de todas as exceções, porque como premissa de seu raciocínio é suficiente para o leitor concordar que sua virtude não é perfeita e não será perfeita no futuro. Neste ponto, pode parecer apropriado abandonar completamente a ideia de perfeição moral. Em vez de lutar pela santidade da vontade, devemos contentar-nos com as nossas limitadas possibilidades. Kant viaja de outra maneira. Ele pede para adotar “um processo para o infinito, para essa adequação completa”, isto é, a fé em “uma existência e uma personalidade do próprio ser racional, duradoura até o infinito”[5]. Com este postulado da imortalidade da alma, Kant cria a possibilidade de se aproximar do ideal de uma vontade sagrada, sem o conceito do supremo bem esvaziado em seus olhos.
O postulado de Kant da imortalidade tende, portanto, tende a supor um tempo de prova moral prolongada ao infinito. Sobre este ponto, a concepção kantiana difere significativamente da cristã, para a qual a morte representa o último ponto possível para a conversão. Deve-se perguntar, acima de tudo, se o postulado vai conseguir o que Kant promete. Examinemos, portanto, mais cuidadosamente a ideia de um progresso moral infinito. Como já dissemos, entre os pressupostos do raciocínio de Kant é também o que ninguém jamais atinge o estado de perfeita virtude. Isso significa antes de tudo que todo homem, em qualquer momento de sua existência, pode fazer o mal. Mesmo um alto grau de virtude não se preserva de transgredir a lei moral, pelo menos em alguns casos. Pelo contrário, é um elemento essencial da moralidade que todas as ações morais sejam livres e, portanto, em um instante, posso cometer algo errado. O progresso infinito, portanto, não tira nada da possibilidade de cair no vício. O crescimento da virtude não elimina a liberdade para o mal. Mesmo que no sentido kantiano fossemos imortais e progredissemos constantemente para melhor, em termos de termos essa condição nunca mudaria.
A suposição kantiana de uma abordagem assintomática à perfeição também leva a outra consequência indesejável. Se é verdade que minha ação não corresponde a qualquer momento ao ideal de santidade, então cada dia aumenta a quantidade de mal que eu cometo. Quanto mais me aproxima da virtude, mais estreito, mais estreito, certamente se torna minha relativa parte das más ações; mas a volta negativa do progresso infinito consiste no fato de que a quantidade de mal pela qual sou responsável cresce cada vez mais. Agora, Kant acredita expressamente que, pelo menos aos olhos de Deus, o progresso contínuo em direção a melhor aparece como a virtude perfeita. Deus “desaparece nesta série, para nós infinitos, toda a adequação à lei moral”[6]. Mas a consequência não é de todo convincente. Com o mesmo direito, pode-se concluir que Deus abraça com um único olhar a totalidade de nossas más obras e, portanto, a inadequação da intenção à lei moral. A suposição da imortalidade, portanto, não cumpre a função pela qual Kant introduz o postulado. Não se pode entender como a existência do infinito duradouro pode resolver a dificuldade da imperfeição moral do homem. A hipótese da imortalidade, portanto, não ajuda a conceber a virtude perfeita como o primeiro elemento do bem supremo.
A virtude e a felicidade
Apesar desse julgamento desencantado, seria errado considerar o plano de Kant de construir uma metafísica prática falhando completamente. Em vez disso, é apropriado refletir de uma nova maneira sobre o conceito do bem supremo. O próprio Kant deu o título de “Dialética” à seção correspondente da Crítica da Razão Prática, porque ele trata você com as contradições e tensões que existem entre virtude e felicidade. Embora a moralidade dependa apenas do livre arbítrio do sujeito, quando se trata de felicidade, parece que é algo que o homem pode alcançar com sua própria força apenas de maneira condicional. As razões para isso são diferentes. Em primeiro lugar, nossa felicidade depende de muitos fatores externos que escapam ao nosso controle. Apesar de todos os avanços da ciência e da tecnologia, a humanidade ainda está longe de ser capaz de dominar e influenciar o curso da natureza, de modo a evitar a dor e o sofrimento. Muitas vezes, são os homens que impedem a felicidade uns dos outros. Os maus atos de ambos inevitavelmente têm consequências para o bem-estar dos outros. Kant também sugere outra razão, muitas vezes negligenciada: o fato de que normalmente não sabemos o que precisamos ser felizes um momento depois. Mesmo que pudéssemos perceber infalivelmente todas as nossas intenções, nossa felicidade não seria perfeita para isso. O bem-estar duradouro do homem naufraga não só por causa de suas limitadas possibilidades físicas ou falta de boa vontade, mas também porque ele não pode saber quais são as condições que lhe permitem ser verdadeiramente feliz e satisfeito.
Diante desse fato, a ideia do bem supremo é mais uma vez problemática. O que devemos autorizar a supor que existe alguma conexão entre felicidade e moral? Quem ou o que poderia nos assegurar que nossas boas ações realmente alcançam seu propósito? Como se pode excluir que, no final, aqueles que não se importam com a virtude fazem sucesso? Para Kant, a felicidade e a moral só podem ser pensadas em unidade com a condição de que haja um Deus “que contém o fundamento dessa conexão, isto é, do ajuste exato da felicidade à moralidade” [7]. Só Deus é capaz de criar o mundo com a sua ordem natural e, ao mesmo tempo, ajudar os homens a alcançar a felicidade de acordo com as suas boas intenções. Não razão teórica, mas essa prática, portanto, fornece a base para nossas crenças metafísicas.
A metafísica prática de Kant é baseada na suposição de que há uma correspondência total entre a ordem física da natureza e a ordem moral de vontade e dever. A tese da harmonia está na raiz da ideia do bem mais elevado e aos olhos de Kant só pode ser sustentada porque a razão reconhece Deus como o criador do mundo e do homem. Ao contrário das provas tradicionais da existência de Deus, o postulado kantiano não se baseia em princípios teóricos, como o da causalidade, mas deriva da reflexão sobre o sentido último de agir para o dever. Se não houvesse esperança em uma compensação entre felicidade e virtude, mas se dependesse apenas do acaso que nossa ação moral é coroada de sucesso, certamente não prejudicaria o dever moral, mas revelaria que o conceito do bem supremo é uma ilusão. Na metafísica de Kant, portanto, não se trata de algumas convicções escolhidas mais ou menos arbitrariamente, mas da conformidade da prática da razão consigo mesma.
A partir da tese da harmonia, vale a pena olhar novamente para os dois elementos que constituem a ideia do bem maior. Como a razão deve reagir ao fato de que a virtude humana nunca é perfeita? A reflexão sobre o postulado kantiano da imortalidade concluiu que uma existência que continua ao infinito exacerba o problema, em vez de resolvê-lo, pois o homem em todos os momentos possui a liberdade de escolher o mal novamente, e uma vez que a quantidade de ações malignas que se acumulam no curso de uma vida está crescendo continuamente. Por essas duas razões, pode até ser considerado que é um privilégio que o homem não existe eternamente, mas que o tempo das escolhas relevantes no nível moral termina com a morte. Uma vez que, no entanto, a morte não faz o mal feito durante a vida inexistente, o homem não pode evidentemente realizar de si mesmo a reivindicação kantiana de uma perfeita adequação da intenção à lei moral.
Portanto, permanece como a única saída que Deus perdoa o homem a sua culpa. Kant não pretende resignar-se a tal solução, porque em sua opinião todos os tipos de indulgências e toleraria que entraria em conflito com a justiça divina. O fracasso de seu argumento sobre a imortalidade da alma deve ser uma razão suficiente para considerar seriamente a alternativa que ele excluiu. É realmente mais “razoável” pensar em um progresso moral contínuo do homem, em vez de confiar que a justiça de Deus pode subsistir junto com sua misericórdia? Embora não se possa dar uma resposta filosófica definitiva a esta pergunta, deve ficar claro que a ideia de perfeição moral não leva necessariamente à fé na imortalidade, mas pode igualmente despertar uma profunda reflexão sobre o fato de que o homem está sujeito ao perdão e à existência de um Deus misericordioso.
Se considerarmos agora o outro elemento do bem mais elevado, a felicidade, vemos quase uma imagem oposta. Como vimos, Kant postula a existência de Deus como uma condição necessária para que haja uma correspondência entre a ordem física e a moral. Se não houvesse Deus, não haveria razão para acreditar que nossa ação moral exerce uma influência decisiva sobre o bem da humanidade. É estranho que Kant leve tão pouco em consideração o fato de que a harmonia entre moralidade e felicidade, inerente ao conceito de bem mais elevado, encontra tão pouco respeito em nossa experiência diária. Como mostra suficientemente a longa história do debate sobre a teodiceia, a realidade oferece numerosos exemplos que nos levam a duvidar não só da misericórdia de Deus, mas também da sua justiça. A admissão da existência de Deus não é de forma alguma suficiente para garantir que a virtude e a felicidade sejam sempre combinadas. O que sabemos sobre o mundo físico vai contra a suposição de que todos os homens realmente alcançam um grau de felicidade correspondente à sua intenção moral.
Como no caso da perfeição moral, também aqui se oferece a solução para deixar de lado completamente a ideia do bem supremo e para deixar a esperança na felicidade. Quem persiste em acreditar que o bem supremo é atingível e com Kant continua a supor que a felicidade é o estado de um ser racional “a quem, em toda a sua existência, tudo vai de acordo com seu desejo e vontade”, ele deve pensar que sua existência em sua totalidade não está limitada à vida terrena. Em vez de recorrer à imortalidade como condição de progresso moral, é muito mais óbvio ver nela a condição para a verdadeira felicidade. Esta proposta não é uma consolação meável projetada na vida após a morte, mas a tentativa de esclarecer o objeto pela nossa razão prática.
Uma vez que o homem não é apenas moralmente obrigado a fazer o bem, mas também realmente quer alcançar esse bem, surge o problema do que permanece além do dever moral e das condições metafísicas subjacentes às nossas possibilidades físicas para que esse bem possa ser realizado. A consideração que Kant propõe a esse respeito soa assim: a correspondência entre moralidade e felicidade, inerente à ideia do bem mais elevado, só pode ser pensada como possível se um Deus pessoal deve existir. No entanto, uma vez que a bem-aventurança nem sempre é alcançada neste mundo físico por alguém que age moralmente, a continuação da existência além da morte também vai para o que é pensável no nível filosófico. Se alguém supõe a imortalidade da alma, isso não resulta, como observou Kant, mais uma oportunidade para demonstrar sua virtude, mas o segundo elemento do bem supremo, a felicidade, é revelado possível. Desta forma, mais uma vez pode-se ver como as reflexões de Kant sobre o conceito de bem supremo realmente levam a perspectivas metafísicas válidas. Mesmo aqueles que não concordam com suas conclusões, terão que confrontar pelo menos seus argumentos aqui. Em qualquer caso, deve ficar claro que a questão da imortalidade da alma não pode permanecer alheia ao problema de uma vida boa.
La Civiltà Cattolica 2012
A reprodução é reservada
) )
[1] Veja I. Kant, Sonhos de um visionário esclarecido com os sonhos da metafísica, em escritos precríticos, Roma – Bari, Laterza, 1982, 399.
[2] Id., Crítica da Razão Pura, Milão, Bompiani, 2004, 51.
[3] Id., Crítica da Razão Prática, Milão, Bompiani, 2004, 261
[4] lá, 267.
[5] Ivi, 261.
[6] Ivi, 263.
[7] lá, 267.
[8] Lá, 265.
*Professore di Filosofia religiosa e disciplinare presso l'Università di Monaco di Baviera.
OBS: Texto em italiano. Tradução pelo Google sem correção.
Fonte: https://www.laciviltacattolica.it/articolo/immortalita-dellanima-e-sommo-bene-sulla-metafisica-pratica-di-immanuel-kant/?utm_source=Newsletter+%22La+Civilt%C3%A0+Cattolica%22&utm_campaign=6e6e583091-Newsletter_quaderno_4172&utm_medium=email&utm_term=0_9d2f468610-6e6e583091-85986793&ct=t(Newsletter_quaderno_4172)&mc_cid=6e6e583091&mc_eid=2fdb252660