Fernando Luís Schüler*
O tempo jogou a favor do filósofo.
Seu centenário
ocorre numa era em que a violência e o totalitarismo são intoleráveis – e
suas ideias libertárias
são atuais como nunca
Albert Camus chamou o século XX de “o século dos rancores”. Nascido em
novembro de 1913, viveu uma vida relativamente curta e intensa. Morreu
em 1960, três anos depois de receber o Prêmio Nobel de Literatura. Já se
vão 100 anos de seu nascimento, mas é difícil não pensar em Camus como
um intelectual do nosso tempo. Defini-lo é perigoso. A melancolia, a
estética noir dos cafés de Saint-German-des-Prés andam lado a lado com a
imagem do homem viril, amante da dança, do sol, da Espanha e de algumas das mulheres mais encantadoras de seu tempo, como Maria Casares e Catherine Sellers.
Camus viveu o lado obscuro do século XX. Século da “peste”, do medo, da submissão do homem ao absurdo da ideologia. A grande guerra, a ocupação da França, o engajamento na resistência, a guerra de independência na Argélia, sua terra natal e de formação. Após o fim da guerra, foi um dos poucos intelectuais franceses a tomar plena consciência – e a tratar disso com coragem – do horror soviético, dos campos de concentração, do absurdo totalitário. Acossado pela intelligentsia ligada, ou simpática, ao sovietismo, condenou igualmente os ataques nucleares dos Estados Unidos ao Japão; a prerrogativa dos vetos, no Conselho de Segurança da ONU; o absurdo da Guerra Fria, cuja lógica sempre se recusou a adotar. Fez da oposição ao franquismo quase sua obsessão pessoal.
O desassossego que sempre acompanhou Camus não se restringia ao contexto histórico em que viveu. Seu tema é existencial. A solidão. Sua própria. “Se eles não querem que eu lute”, escreveu, em 1939, logo depois de ser impedido de servir na guerra, em função da tuberculose crônica, “é porque meu destino é sempre ser deixado de lado.” O desconforto, a inadequação. Camus declarou certa vez que passara a vida com uma estranha sensação de que era culpado de alguma coisa. A desconfiança crônica com a qualidade de sua literatura. O casamento desapaixonado com Francine. O fastio com a vida intelectual parisiense. A sedução da fuga para as “cidades sem passado”. E o tédio das conferências. Uma delas, em Porto Alegre, numa noite fria, agosto de 1949, durante uma turnê pelo Cone Sul. Recebido com uma fala curta e elogiosa de Erico Verissimo, anotou em seu diário: “Essas ilhotas de civilização são frequentemente horrendas”.
Camus viveu o lado obscuro do século XX. Século da “peste”, do medo, da submissão do homem ao absurdo da ideologia. A grande guerra, a ocupação da França, o engajamento na resistência, a guerra de independência na Argélia, sua terra natal e de formação. Após o fim da guerra, foi um dos poucos intelectuais franceses a tomar plena consciência – e a tratar disso com coragem – do horror soviético, dos campos de concentração, do absurdo totalitário. Acossado pela intelligentsia ligada, ou simpática, ao sovietismo, condenou igualmente os ataques nucleares dos Estados Unidos ao Japão; a prerrogativa dos vetos, no Conselho de Segurança da ONU; o absurdo da Guerra Fria, cuja lógica sempre se recusou a adotar. Fez da oposição ao franquismo quase sua obsessão pessoal.
O desassossego que sempre acompanhou Camus não se restringia ao contexto histórico em que viveu. Seu tema é existencial. A solidão. Sua própria. “Se eles não querem que eu lute”, escreveu, em 1939, logo depois de ser impedido de servir na guerra, em função da tuberculose crônica, “é porque meu destino é sempre ser deixado de lado.” O desconforto, a inadequação. Camus declarou certa vez que passara a vida com uma estranha sensação de que era culpado de alguma coisa. A desconfiança crônica com a qualidade de sua literatura. O casamento desapaixonado com Francine. O fastio com a vida intelectual parisiense. A sedução da fuga para as “cidades sem passado”. E o tédio das conferências. Uma delas, em Porto Alegre, numa noite fria, agosto de 1949, durante uma turnê pelo Cone Sul. Recebido com uma fala curta e elogiosa de Erico Verissimo, anotou em seu diário: “Essas ilhotas de civilização são frequentemente horrendas”.
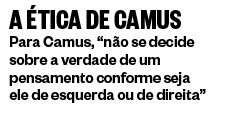
Filósofo em formação, na casa dos 20 anos, ainda em Argel, Camus se propôs a enfrentar um antigo tema da filosofia: o sentido da vida humana. Possivelmente, o mais complicado de todos, dado a soluções precárias. Seu argumento: a condição humana é dada pelo “absurdo”. O absurdo é nossa exigência de clareza diante de um mundo opaco. O confronto desesperado “entre a interrogação humana e o silêncio do mundo”. Camus recorreu à história de Sísifo, que lhe parecia o perfeito herói absurdo. Sísifo tenta escapar de seu destino, enganar os deuses. Seu castigo será empurrar infinitamente a pedra de mármore, montanha acima, até vê-la cair, e recomeçar tudo de novo. Camus encontra aí uma metáfora da condição humana. Podemos imaginar Sísifo feliz quando sabe que aquele é seu destino. Podemos vê-lo em desespero, quando imagina que seu destino poderia ser outro. Cada um de nós é Sísifo. Cada um carrega sua própria pedra. Sísifo nos lembra que somos iguais, que fazemos todos a mesma pergunta e ouvimos todos nenhuma resposta. Há, porém, alguma margem de manobra. É possível jogar, é possível agir com “vivacidade”. Camus enumera modelos de “jogo”: o amante, o comediante, o aventureiro. Haveria outros. O “moralista”, quem sabe, personagem que Camus sempre rejeitou. Para si, escolheu o “criador”, o artista, para ele a síntese de todos os homens absurdos e, dentre eles, o mais feliz. Cada qual fará suas escolhas. A pedra nos lembra simplesmente que tudo é precário, que há limites. Mas, de alguma maneira, nos tranquiliza. “Assim como, em certos dias, a descida é feita na dor”, escreve, “também pode ser feita na alegria” e a “própria luta para chegar ao cume pode encher o coração de um homem.”
Um segundo grande tema de Camus diz respeito à política. Sua posição: a consciência do absurdo não nos deve levar à indiferença moral. O desafio é fundamentar uma ética universalista, pautada pela justiça, pela recusa da violência, num mundo dessacralizado, carente de uma ordem última de valores – seja ela dada por Deus, seja por algum movimento próprio da história. Esse tema aparece em Calígula, quando o Imperador sugere que Cherea, seu executor, creia em “alguma ideia superior”. Cherea rejeita a sugestão, mas afirma crer que “algumas ações contêm mais beleza do que outras”. Calígula responde, dizendo acreditar que “todas elas são equivalentes”.
Sua visão política se revelou com toda a clareza em O homem revoltado, publicado em outubro de 1951. Camus o considerou seu livro mais importante. À publicação do livro, seguiram-se o conhecido debate e a ruptura com Sartre. O debate dividiu uma geração inteira e, de certo modo, prossegue. De um lado, a ética universalista de Camus, seu imperativo de “não violência”, o cansaço da ideologia. De outro lado, o realismo político de Sartre, que à época se alinhava aos comunistas, no ambiente intoxicado da Guerra Fria.
Vargas Llosa bem definiu o argumento de Camus, em O homem revoltado. Disse que, para ele, “toda tragédia da política começou no dia em que se decidiu que era lícito matar um homem em nome de uma ideia”. O tema surge na cena em que Yanek, o poeta terrorista, personagem central da peça teatral Os justos, se recusa a explodir a carruagem do Grão-Duque, quando percebe que teria de explodir junto duas crianças, que o acompanhavam. A hesitação de Yanek faz dele, naquele instante, um “homem revoltado”. Camus sabia que erguia uma perspectiva ética em bases frágeis: num mundo caótico, que mal haveria de explodir uma criança? Ética é construída no deserto. Talvez um pacifismo ingênuo, que ele chamava de ética da “solidariedade humana que nasce nas prisões”, do exercício da empatia, como um longo aprendizado. Nesse aprendizado, o “homem revoltado” é o pedagogo. Aquele que anda na frente. Por vezes, é Dom Quixote. Ele tateia nessa escuridão infernal, a ausência de valores últimos. O tempo, porém, parece lhe pertencer.
Em maio de 1952, Francis Jeanson, jovem colaborador de Sartre, publicou, na revista Les Temps Modernes, um artigo acusando Camus de professar uma “moralidade cruz vermelha”. Um humanismo subjetivista e vago, que desconsidera o papel da história e da economia nas revoluções. Na polêmica que se seguiu, Sartre evitou o debate no terreno filosófico. Lançou mão do argumento ad hominem: “E se seu livro fosse feito de conhecimentos colhidos às pressas, de segunda mão?”. Numa sugestiva hierarquização de valores, disse considerar os campos de concentração soviéticos tão inadmissíveis quanto “o uso que a imprensa chamada burguesa faz deles”. Camus recusou o clichê: “Não se decide sobre a verdade de um pensamento conforme seja ele de esquerda ou de direita”.


Num sentido amplo, Camus tornou-se, nos anos do pós-guerra, um liberal. No final de O homem revoltado, observa que “a política e a sociedade têm apenas o encargo de ordenar os negócios de todos, para que cada um tenha o tempo e a liberdade dessa busca comum”. Observa como o capitalismo soube, pela via do reformismo social, melhorar as condições de trabalho, percebe o crescimento constante das classes médias e a desconcentração do capital – no mercado de capitais e nos pequenos negócios. Estávamos em 1950. Ele manifestava suas simpatias pelo modelo escandinavo, mas não ia além disso. Sua teoria social não é sistemática. Seu argumento é estético. Numa sociedade perfeita, escreve, “as crianças continuarão a morrer, sempre injustamente”. Não há antídoto para o drama mais fundamental, o desejo humano pela clareza num mundo opaco. Mas não há dúvidas de que o espírito da revolta, cujo vértice é a dignidade humana, nos permite melhorar o mundo.
Tivesse Camus escapado ao acidente que lhe tirou a vida, aos 46 anos, em janeiro de 1960, talvez mudasse de ideia sobre sua visão sombria do século XX. Teria assistido à independência da Argélia, à derrota do franquismo, quem sabe mesmo à derrubada do Muro de Berlim, ao final da Guerra Fria e, em particular, à criação da União Europeia. Camus certa vez subscreveu ao gesto de Garry Davis, que queimou seu passaporte americano em Paris e anunciou a criação do primeiro “passaporte mundial”. Difícil definir, ainda hoje, a utopia de Camus. Uma forma, quem sabe, seria falar num mundo sem estrangeiros. A ideia parece distante, mas a verdade é que há uma moeda comum, há direitos comuns, e nenhum passaporte é requerido na circulação entre 26 países europeus.
Após a polêmica em torno de O homem revoltado, Camus aproximou-se cada vez mais do teatro, como dramaturgo e diretor. Em 1958, anotou em seu caderno: “Parar de pensar em política, escrever comédias, nada esperar da sociedade”. Dedicou seus últimos meses de vida a escrever e a revisar aquele que foi seu último livro, O primeiro homem, publicado apenas em 1994. Desde essa época, quem sabe sob os ventos liberalizantes da virada da década de 1990, seu prestígio tem crescido. Em 1996, Olivier Todd publica sua monumental biografia, Camus, uma vida. Em 2010, nas comemorações do cinquentenário de sua morte, o então presidente francês, Nicolas Sarkozy, propôs que os restos mortais de Camus fossem retirados de seu túmulo singelo, na vila de Lourmarin, e transladados para o Panthéon, em Paris. O que acharia Camus dessa ideia? Talvez desse uma boa gargalhada. Ou, talvez, como Mersault, dissesse que lhe era indiferente o destino de sua tumba.
O tempo correu ao encontro de Camus. O totalitarismo é, hoje, uma ideia intelectualmente derrotada, ainda que seus fantasmas continuem a nos assombrar, mundo afora, como imensos esqueletos destituídos de espírito. Liu Xiaobo, Nobel de Literatura, segue encarcerado na prisão de Jinzhou. Haveria ainda uma agenda cheia para o “homem revoltado”. Mas ela se desloca, lentamente. Quem sabe o último dia deste século nos encontre numa situação distinta? Quem sabe não sejam apenas 26, mas duas centenas de países que tenham, então, suprimido a exigência de passaportes? Quem sabe a “peste” tenha sido finalmente vencida, o planeta seja regido por uma federação de repúblicas, e a sedução totalitária e as patologias do nacionalismo pertençam apenas à memória? Nesse dia, alguém dirá – talvez num eco distante do modo como Bernard Henri-Lévy definiu o século XX (em O século de Sartre) – que teremos vivido um século camusiano.
------------------------------
* Fernando Luís Schüler é doutor em filosofia (UFRGS), diretor do Ibmec e curador do Projeto Fronteiras do Pensamento
Fonte:

Nenhum comentário:
Postar um comentário